Seu carrinho está vazio no momento!

O castigo de escolher
Aqui está, Júlio, o momento que se aproxima, o que por fim o incita a mover-se pela última vez: o castigo de escolher.
 Por acaso, a TV. Cena de um filme que não tratava disso. A mulher que vivera todas as fases da vida, agora de olhos fechados, fazendo-se inerte, entregando-se sem saber, silenciosa e mansamente, na cama de um asilo para idosos. Após ter sido uma menina e ter brincado de roda e corridas, ter provado do sexo e gerado filhos, ter sido às vezes compreensiva, outras vezes impaciente, por fim expirava sem defesa e não mais precisava de si mesma. Nem de outros. Glória ou perdão, esquecimento, escala de valores, outra vez a lição de Bruno, a vida acaba numa cama qualquer. Mais cedo ou tarde. Durante o dia, à noite. A morte é a mesma aos que consideram com grande responsabilidade os ideais e aos que se divertem largamente. Júlio desligou a TV.
Por acaso, a TV. Cena de um filme que não tratava disso. A mulher que vivera todas as fases da vida, agora de olhos fechados, fazendo-se inerte, entregando-se sem saber, silenciosa e mansamente, na cama de um asilo para idosos. Após ter sido uma menina e ter brincado de roda e corridas, ter provado do sexo e gerado filhos, ter sido às vezes compreensiva, outras vezes impaciente, por fim expirava sem defesa e não mais precisava de si mesma. Nem de outros. Glória ou perdão, esquecimento, escala de valores, outra vez a lição de Bruno, a vida acaba numa cama qualquer. Mais cedo ou tarde. Durante o dia, à noite. A morte é a mesma aos que consideram com grande responsabilidade os ideais e aos que se divertem largamente. Júlio desligou a TV.
O que se tem passado em sua mente, em sua vida até então? Sempre mais a certeza da morte, a densidade do tempo consumindo os dias, aproximando todos os que vivem do dia dos dias, o dia nenhum, seu auge e seu fim. Supõe um ideal, algo ainda o move em direção à vida. Mas custa-lhe defini-lo, não pode contá-lo, nem contar com ele, não se organiza como objetivo. Será apenas viver, essa sombra? Ideal e morte, duas grandezas que orientam a história, que se confrontam, se desafiam e lhe cabem como a todos os que sonham: uma delas, a marca de sua grande decisão. Aqui está, Júlio Dias, o momento sem par. A prova que lhe propõe a consciência em crise. Entende que não pode mais conciliar sua vida diária de homem, de sentido improvável, com a frequência de sua visão abrangente, alucinada, da realidade, e que molda o que se acostumou a chamar de sua doença. Sua loucura. Adivinha a solução do pesadelo. Não apenas desistir do mundo. Renunciar ao que é. Aqui está, Júlio, o momento que se aproxima, o que por fim o incita a mover-se pela última vez: o castigo de escolher.
Ainda o inverno. Sol tênue, nuvens esmaecidas. Sábado, sozinho. A garota de rosto cativante, olhos e lábios convidativos, não inspira a morte, mas também não devolve vida. Congelada na superfície plastificada, servindo a um flagrante quase agressivo. Desafiadora, devoradora. Olhar sereno mas incisivo, de uma castidade diabólica, como a devassar seu observador. Ele entra e sai das drogarias, tendo em mente que aquele rosto o espera em casa. Pequenas quantidades do mesmo comprimido adquiridas em cada uma: dissimular.
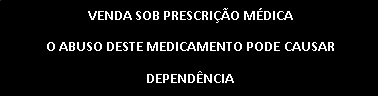
Dependência? Não corre esse risco. Por sorte, nenhum farmacêutico cria obstáculos por causa da faixa preta. Era como se pedisse aspirina, sal de frutas. Querem vender, só isso. Continuar vivendo. Boa sorte a todos. Ninguém, nada obstrui o andamento de seus planos, tudo concorrendo a que leve a cabo o crime secreto de viver ainda esse dia. Boa sorte aos que ficam por mais tempo. Boa sorte, idiotas.
Teu pai caminhava, dizia-se, em outra tentativa de fuga, com um pé oblíquo e o passo bastante aberto, defeito adquirido por um acidente na infância, teus passos de menino tentavam imitá-lo, entortavas o pé ao estendê-lo à frente, tinhas vergonha de que tal defeito fosse dele apenas, querias compartilhá-lo, solidário, e teu pai ria-se de ti sem explicar nada. Sem nunca explicar nada. Também quando tua mãe te levava aos escritórios onde ele trabalhava, o prédio ostentando colunas como mármore, piso e paredes muito lisas, adornadas como os templos e os palácios que encontravas nos teus livros, ele vinha do subsolo pela escada larga que te punha medo, eras bem pequeno, colado ao corrimão, ele te abraçava e tu não querias descer até onde ele exercia seu ofício, embora te queimasse a curiosidade, depois o vias voltando ao fundo, ao corredor mal iluminado que abria almoxarifados e depósitos no subterrâneo, era um homem de porões, onde acalmava sua alma obscura, avessa à luz, e parecia trabalhar ali com indiferença, tu é que nunca o compreendeste, estranhavas que ele trabalhasse à guarda do dia, mais tarde sentiste pena em vê-lo incapacitado, arruinado e insano, à parte isso e o mais que insistires em associar, ele que tanto convivera com os subsolos e os porões, e não pudera chegar ao fundo de si mesmo.
O dia em sua cidade. Não existe a infância. Nem poderia. Agora o aflige um grande sentimento de insignificância ante o enorme mundo-tempo e a vasta população de todas as terras, restando no fundo uma angústia liliputiana frente ao intangível conjunto humano que, ao contrário do gigante náufrago, não podia ser apreendido. Escapava. Distribuía-se. Globo terrestre. Os continentes todos. O dia em sua cidade.
Começa a escurecer. O tráfego parece tranquilo, pessoas sem a pressa dos dias úteis. Dias úteis, ele ri. Ou pensa que ri. A esplanada do teatro, pombos repassando os degraus sem pensar em nada, talvez em comida, o que já é alguma coisa. Duas crianças chamam um cãozinho distraído e desobediente. Nada o incomoda, mas lembra-lhe Pateta. Pateta, agora compreendo. Nem sempre há lugar para o que somos. E o que somos? Não me importa mais. Fiquem os que são com o que são, com o seu de-onde-vieram, sua nacionalidade e suas carreiras, o que lhes sirva ainda de ilusão e refúgio. Os que são, de onde vieram, para onde vão e outras bobagens do tipo o-tempo-passa-ou-nós-é-que-passamos, o que absolutamente não traz a menor diferença.
Mulheres ainda o atraem de maneira obscura: essa que busca seus olhos por mais tempo, enquanto passa por ele, ameaça sorrir, passa sem saber de sua última noite. Olha ainda uma vez o espaço externo antes de entrar. Como será esta cidade depois que eu morrer? Está certo, Júlio. Isso merece outra estúpida gargalhada.
Chega em casa, estoura as caixinhas, embalagens aluminizadas, despeja tudo sobre a escrivaninha. Ao lado, o rosto o procura, a jovem fascinante. Evita fixar aqueles olhos por mais tempo, livra-se dela com um gesto, busca páginas mais à frente, a rastrear o que de fato deseja. Reconta os comprimidos. Sessenta deles diluídos em água, dose letal, garante o artigo, entre outros alertas e conselhos aos consumidores de antidepressivos e tranquilizantes. Tranquilizantes, ele ri. Outra vez, pensa que ri. Era de Vanda essa revista. Emprestara-lhe certa vez para que lhe traduzisse a letra de uma canção de grande sucesso e monotonia. Nem ele se animou a traduzi-la, nem ela se lembrou de lhe cobrar isso – e a revista ficara ali, a um canto, a face desafiadora e linda, a desconhecida da capa ilustrando o que de mais harmônico se havia engendrado através da evolução natural num exemplar humano, o que outra vez lhe ocorria como resquício das comparações secretas que aplicava a… Grande consolo, pensou. Vanda também tinha sua parte. Ele poderia dizer que aquela era a sua canção de Vanda: o não traduzi-la e ela esquecer-se, a canção de Júlio por ela, o casal que foram. Diluídos em água. Formam um caldo espesso e castanho, uma espécie de vitamina. Vitamina para morrer. A mãe lhe mostrava sucos como aquele, beber tudo para crescer, ficar forte. Crescido. Forte o suficiente. Forte para acabar com tudo.
Espelho pela última vez. Demora-se a espremer uma espinha. Vício? Instinto? Medo? Todos aprenderam a viver, menos você. E dizem que é inteligente. Não passa de um cego, um… Calma. Nada de chorar, você nunca foi disso, lembra? De quem essa voz? A professora, a remota infância de escolas. “Você tem muito jeito para redação, conseguiu a nota máxima. Agora leia seu trabalho para a classe.” Vergonha de suas notas. Vergonha de expor-se ao público. Quita, oradora oficial da turma: “Posso ler pra você, Júlio?”. Os colegas ouvem com atenção. Perpassa um murmúrio de assombro ao som de certas frases, fecho dos parágrafos. Quita realiza-se à sua maneira. A professora gratificada. Só ele se retrai, não compreende verdadeiramente a importância daquele papel, daquele texto. Os papéis, os textos. A colega termina, a classe aplaude, pequenos momentos de glória. O que pretendem com isso? Que querem que ele seja? Que percursos e batalhas enfrentarão os redatores de nota máxima e por que não aprendem a libertar-se disso? O sinal do intervalo, a dispersão da plateia, o apoio da professora no corredor. “Você é muito inteligente, Júlio. Há de tornar-se um grande homem.” Que outra lembrança pode ser mais dolorosa ou intensa? Ou menos irônica?
Volta-se à droga que haverá de redimi-lo e livrá-lo da responsabilidade ridícula das notas máximas, das carreiras e nacionalidades, particularmente de ser um grande homem. Parece muito simples, não pode ser mais simples. Ingerir tudo, sem caretas. Caretas, ele ri. Notas máximas, dias úteis. Deitado em sua cama, espera pelo sono do qual não despertará. Ruídos avulsos do tráfego, vozes lá embaixo, tudo dando lugar ao silêncio do nunca, o que supõe ser a voz do sempre. Perdendo-se, dissolvendo-se nas trevas. Palavras que um resto de raciocínio ainda consegue agrupar: está dando certo… Está dando certo… Acabou, Pateta… Acabou… Um confuso desenrolar-se de imagens, algo como se todos os arquivos descarregassem brutalmente seu acúmulo inútil. Formas. Rostos. Lugares à frente e à sua volta, com a propriedade dos transes transcendentes, abissais, e estranhos símbolos que jamais houvera visto, nem antes imaginado que alguém pudesse concebê-los. Entre os rostos, o mais recente, a garota da capa – a vida? a morte? Vanda. Lapsos dos pais. Um rosto que se firma e se repete antes de evaporar-se no torvelinho. Um homem desconhecido, olhos muito claros. Faz-se Bruno, traz Coelho, torna a ser ninguém. Volta-lhe de frente, desaparece. Não há mais impulsos de defesa ou chances de retorno. Um último lampejo daqueles olhos estranhos, e a escuridão faz-se completa. O percurso. O silêncio.
Os últimos dias de agosto – Guia de leitura
73. O diário de um morto 1. Página 27. Velha casa, sala de espera, chuva – sequência
71. Nenhum gesto, nenhum grito – anterior
Imagem: Paul Klee. Paisagem com corvo (detalhe inferior). 1925.
por
Publicado em
Categorias:
Tags:
Leia também:

Comentar