Seu carrinho está vazio no momento!
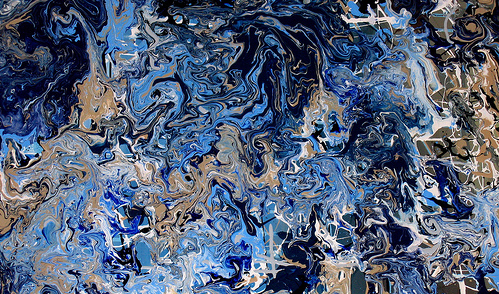
Nenhum gesto, nenhum grito
Raramente sorria. Tal como o recordo. Sim, agora o percebo melhor. Agora, tão tarde.
 Nunca pensei que ele pudesse morrer, outro pensamento bastante tolo. Como estaria ele, eu pensava, numa noite escura e chuvosa como aquela, no fundo da terra? Como se a noite fosse outra sobre os mortos. Noite sobre os mortos, eu disse? Certo, isso é coisa de vivos. Para os mortos, não há noite nenhuma.
Nunca pensei que ele pudesse morrer, outro pensamento bastante tolo. Como estaria ele, eu pensava, numa noite escura e chuvosa como aquela, no fundo da terra? Como se a noite fosse outra sobre os mortos. Noite sobre os mortos, eu disse? Certo, isso é coisa de vivos. Para os mortos, não há noite nenhuma.
“Noite de chuva sobre a capital. Temperatura caindo sempre, mas não aqui! Agarre o seu volante, rodando agora o sucesso mais quente da semana, outra vez o mais pedido, e você já sabe: esta é a estação mais alegre da cidade!”
Em outra história, ainda nos encontramos num bar noturno e brindamos, de brincadeira, aos estranhos momentos em que se celebra a vida. Ele por fim sorri, com grande espontaneidade. Sorri como se… Muito interessante. Só agora me dou conta de que ele raramente sorria. Raramente sorria. Tal como o recordo. Sim, agora o percebo melhor. Agora, tão tarde.
Sua morte no passado, o trauma de seus pais. Parentes murmurando no velório, o tempo outra vez em seu curso, como se alguma vez se houvesse detido, meses de ele estar sepultado, escurecido, desde o último dia de seu cérebro, sua maneira de ver, o que teria sido, desde então, ausência.
Minha idade? Estar aqui por mais tempo. Bruno, já lhe disse: a gente morre numa idade qualquer, e ninguém pode outra coisa. Se me houvesse acontecido, digamos, quando menino… Nada do que vejo agora, esta realidade, os dias, pessoas. Que mais são os dias senão minha idade sem conta? Talvez não seja preciso continuar vivendo. Talvez nunca tenha sido, exageros à parte. Reconheço a ordem nebulosa de sobrevivência e preservação gravada no âmago dos genes, algo que sussurra, como um demônio, em nosso sangue, a surda tentação de ir em frente, sempre mais à frente. Mas só depois de tudo, o nada em que terá se convertido esse tudo, é possível aceitar o fim e o tempo. Somos o futuro de termos sido, e já não somos nada. Menino, livre da vida, e ninguém me faria culpado. Mas não morri. Cresci e estudei, viajei, e hoje sou feito de uma substância densa e vigorosa que demanda alimento para firmar-se sobre a terra. Água para estranhas sedes. Sol para justificar-me. E para quê?
Desde então, ausência. O que é ser uma ausência mais do que não ser? Outros diriam: aquele menino que morreu… Júlio não poderia ouvi-los. Talvez comentassem sua morte, em meio a uma conversa qualquer (o tempo, o curso), e fariam o resto de suas vidas (o resto, o tempo) ocupado com problemas de toda ordem, enquanto ele (o curso, ele não sendo), fora dos dias alheios: confortavelmente livre de todos.
Aquele que se havia afogado no rio? Claro, eu me lembro. Era mais velho que nós, se é que isso importa, mais astuto e experiente, e ensinava palavrões aos meninos menores. Inseria palavrões em quase toda a sua fala, quase tudo o que dizia. Encrenqueiro, vaidoso. Nadava contra a correnteza para nos impressionar, reavivando nosso antigo medo das coisas, do mundo. Deve ter se embaraçado numa galhada submersa, uma garra inexorável que o tenha puxado ao fundo e arrastado para longe. Longe de tudo. Que a água lhe seja leve. Não, não vimos nada. Quando demos por sua falta, já não o encontrávamos em parte alguma. Dias depois, seu corpo foi resgatado de um barranco às margens de outra cidade por onde o rio também passava. O rio, seu curso. Penso no afogado. Nenhum gesto, nenhum grito. Sua ausência, tudo submerso. Há tanto tempo está livre. E não pode ser encontrado em parte alguma.
Os últimos dias de agosto – Guia de leitura
72. O castigo de escolher – sequência
70. Imagens recentes do funeral de Bruno – anterior
Imagem: Lea Kelley. Netuno.
por
Publicado em
Categorias:
Tags:
Leia também:

Comentar